Nos Estados Unidos, o governo conseguiu mais controle direto sobre pacientes com doenças mentais do que jamais teve sobre os índios americanos ou sobre os escravos negros. Esses pacientes tiveram qualquer independência que possuíssem eliminada pela administração de drogas, eletrochoques, choques de insulina, lobotomias, e outros supostos tratamentos. Supostamente, essas pessoas sofrem de “doenças mentais”, que foram a justificativa para que maridos internassem esposas rejeitadas em instituições psiquiátricas, famílias largassem parentes embaraçosos, e comunidades encerrassem desviantes sociais. Embora o número de pessoas em hospitais psiquiátricos nos Estados Unidos tenha caído ao longo das últimas quatro décadas, o número de pessoas em outros programas pagos pelo governo e por seguros aumentou. Esses programas incluem hospitais da Veterans Administration, hospitais gerais, asilos, centros de reabilitação para dependentes químicos e alcoólatras, instalações de psiquiatria forense, conjuntos habitacionais estatais, pensões e abrigos, além das penitenciárias. O número de pessoas em todos esses lugares é estimado em um milhão.
Mais do que qualquer outra pessoa em tempos recentes, o psiquiatra Thomas S. Szasz expressou oposição à internação involuntária, e seus escritos inspiraram o movimento para restaurar as liberdades civis dos pacientes. “Em uma sociedade livre”, ele declarou, “não acredito que ninguém deva ser privado de sua liberdade por nenhuma razão que não seja acusação, julgamento e condenação por um crime... Os pacientes psiquiátricos nos Estados Unidos... sofrem amplas e graves violações de seus direitos constitucionais. Acredito que hoje são essas pessoas, mais do que os membros de grupos raciais ou religiosos específicos, os principais bodes expiatórios de nossa sociedade”. Ele acrescentou: “Os hospitais estatais tornaram-se notórios por negligenciar, e mesmo abusar, dos pacientes psiquiátricos. Há evidências de que o encarceramento em um hospital psiquiátrico pode ser mais prejudicial à personalidade do que o encarceramento em uma prisão”.
Szasz denunciou a teoria psiquiátrica de que “as decisões são, de alguma forma, secretadas pelo cérebro, assim como o açúcar é secretado pelos rins quando você tem diabetes. Não é uma decisão. Simplesmente sai. Bom, eu acredito em livre-arbítrio. Eu acredito que as pessoas não podem ser objetos apropriados de algum tipo de investigação determinista. As pessoas são capazes de fazer escolhas, e devem ser responsabilizadas de várias formas pelo que fazem na vida”.
Szasz recebeu muitas acusações quando os hospitais psiquiátricos estatais começaram a desinstitucionalização – repentinamente libertando grandes números de pacientes. Rael Jean Isaac e Virginia C. Arnat, em Madness in the Streets: How Psychiatry and the Law Abandoned the Mentally Ill [“Loucura nas ruas: como a psiquiatria e a lei abandonaram os doentes mentais”] (1990), alegaram que “ é a ideologia de Szasz que é verdadeiramente desumana”. Alan Dershowitz, professor de Direito na Universidade de Harvard, disse que “não se pode acreditar nos argumentos de Szasz”. O jornalista Pete Hammill, escrevendo para a New York Times Magazine, chamou Szasz de “maluco”. Mas a desinstitucionalização havia começado aproximadamente em 1955, oito anos antes do primeiro grande ataque de Szasz contra a internação involuntária. A desinstitucionalização foi principalmente uma consequência de pressões financeiras sobre os orçamentos dos estados. Muitos pacientes desinstitucionalizados não se adaptaram bem, pois seu espírito de independência fora destruído pela prolongada privação de liberdade, isolamento dos familiares e do trabalho, e os efeitos de truculentos “tratamentos” psiquiátricos.
Szasz falou por todos os perseguidos por causa de comportamentos desviantes pacíficos. Isso incluiu a leitura de livros proibidos, sexo não-ortodoxo, e ingestão de substâncias que as autoridades desaprovavam. “Na medida em que as pessoas têm características que as distinguem umas das outras”, insistiu ele, “a atitude realmente liberal e humana quanto a essas diferenças só pode ser a aceitação”.
A obra de Szasz tornou-se conhecida por todo o mundo, traduzida para o tcheco, o holandês, o francês, o alemão, o grego, o húngaro, o italiano, o japonês, o servo-croata e o sueco. Ele fez palestras em Harvard, Yale, Princeton, Columbia, a Universidade de Michigan, a Universidade da Califórnia (em Berkeley, Los Angeles e Sacramento), e outros campi nos Estados Unidos. Além disso, ele fez palestras em mais de uma dúzia de países. Entre os prêmios que recebeu estão o Prêmio Mencken e o Prêmio de Defesa dos Direitos dos Pacientes. O San Francisco Center for Independent Thought estabeleceu anualmente o Prêmio Thomas S. Szasz por Contribuições à Causa das Liberdades Civis.
Irving Louis Horowitz, professor da cátedra Hannah Arendt de sociologia e ciência política da Universidade Rutgers observou que “Essencialmente, a conquista de Szasz é a habilidade única de trazer para uma disciplina que, ao menos ostensivamente, orgulha-se de sua indiferença a ditames morais, precisamente um senso de moralidade – uma ética de responsabilidade... Quando todos, desde o traficante de rua até o presidente da universidade, podem alegar ser vítimas, é precisamente esse senso de responsabilidade ética que desaparece atrás de uma nuvem de fumaça psiquiátrica”.
Szasz é um homem magro, de um metro e setenta, que gosta de se vestir bem. Levou uma vida vigorosa, caminhando, jogando tênis e nadando quase todos os dias. Um repórter do jornal Philadelphia Inquirer ficou impressionado com a “intensidade emocional e vitalidade intelectual” de Szasz. A revista Cosmopolitan chamou-o de “um orador espirituoso e comovente, cujas opiniões incomuns – e ginásticas verbais – atraem grandes plateias”.
Donald Oken, ex-chefe de psiquiatria no Upstate Medical Center, em Syracuse, Nova York, disse ao New York Times: “Quando as pessoas ficam sabendo que eu era chefe do departamento onde Thomas Szasz trabalha, elas mal podem esperar para ouvir que histórias loucas e fantásticas eu tenho para contar. Você teria que conhecer Tom pessoalmente para entender o quanto essa ideia é ridícula. Ele soa polêmico quando escreve, mas ele não é assim. Ele é carinhoso e agradável – não tem absolutamente nada de extravagante. Ele veste um terno de flanela cinza-escuro todos os dias para trabalhar. Ele é basicamente uma pessoa conservadora”.
O historiador Ralph Raico escreveu que “Contra a corrente de uma cultura que o negaria, Szasz devolve propósito e escolha, certo e errado, ao mundo humano. Para os amigos da liberdade, ele é um dos mais importantes intelectuais vivos hoje”.
Thomas Stephen Szasz nasceu em Budapeste, em 15 de abril de 1920. Sua mãe foi Lily Wellisch, filha de um comerciante de cereais. Seu pai, Julius Szasz, havia estudado direito e era proprietário de alguns prédios em Budapeste. Julius era ateu, mas seu passaporte indicava que ele era judeu (os passaportes húngaros especificavam a religião ou ascendência do portador). Thomas tinha um irmão mais velho, George.
Havia uma parceria entre judeus e não-judeus, conforme explicou o historiador da Universidade de Columbia Istvan Deak: “Entre os anos 1840 e o início da primeira guerra mundial, a alta burguesia húngara e a elite social judaica haviam silenciosamente cooperado para modernizar a Hungria. Os judeus haviam se encarregado do desenvolvimento econômico, e a aristocracia e a burguesia haviam governado o país”. Os judeus ainda tinham de ter cuidado. O governante da Hungria era Miklos Horthy, que promovia o “nacionalismo cristão”, que significava anti-semitismo. A classe média gentia começou a exigir tratamento preferencial em detrimento dos judeus, e a legislatura de Horthy implantou cotas efetivamente limitando o número de judeus que poderiam ser admitidos nas universidades.
Szasz frequentou ótimas escolas, onde estudou latim, francês, alemão, matemática, física, história, e literatura húngara por oito anos. Em suas aulas de alemão, ele amava ler as obras de Friedrich Schiller, o grande dramaturgo alemão que defendia a liberdade. Szasz leu obras de Leo Tolstoy, o autor russo cujo trabalho expressava um espírito de individualismo. “Fui muito influenciado por Mark Twain”, acrescentou ele. “Amei Tom Sawyer e Huckleberry Finn. Queria ser escritor”.
Seu tio Otto era um matemático teórico que emigrou para Frankfurt, na Alemanha, onde era professor universitário. Quando Hitler chegou ao poder em 1933 e os professores judeus foram demitidos, Otto Szasz emigrou para os Estados Unidos e tornou-se professor e pesquisador na Universidade de Cincinatti. Quando ele visitava sua família em Budapeste, uma vez por ano, ele sempre falava sobre a América, que claramente era o melhor lugar para viver. Finalmente, em 1938, a família se preparou para deixar a Hungria. Por causa de restrições do governo que limitavam severamente a mobilidade, tiveram de fazê-lo aos poucos. Julius Szasz obteve um visto para a França, onde tinha parentes. Chegando a Paris, ele obteve um visto para a Holanda, e lá ele solicitou um visto americano. Naquela época, os Estados Unidos tinham cotas de imigração baseadas no local de nascimento do indivíduo. Julius era de uma cidade ao norte de Bratislava, no que se tornou a Tchecoslováquia. A cota para a Tchecoslováquia era pequena, mas muito poucas pessoas se candidatavam, e ele conseguiu o visto. Após chegar na América, ele pediu vistos preferenciais para sua esposa e seus filhos. Thomas e George então seguiram o mesmo caminho. Sua mãe veio um pouco mais tarde, depois de cuidar de negócios em Budapeste.
Thomas e George chegaram aos Estados Unidos em 25 de outubro de 1938, sem saber uma palavra de inglês. A irmã de sua mãe foi a seu encontro, e ajudou-os a chegar a Cincinatti, onde pretendiam encontrar Otto. Eles não podiam morar com ele, porque ele alugava apenas um quarto, mas ele conseguiu permissão para Thomas ouvir aulas na Universidade de Cincinatti, para que ele pudesse começar a aprender inglês. Thomas fazia trabalhos esporádicos, como motorista, por exemplo.
Otto conseguiu matricular Thomas na universidade. Ele estudou medicina, formando-se em primeiro lugar de sua classe e tornando-se cidadão americano. Durante esses anos, praticamente o único livro relacionado à liberdade que ele leu foi On Liberty [“Sobre a liberdade”], de John Stuart Mill. Ele fez um estágio de um ano no Boston City Hospital, e então tornou-se médico residente nas clínicas de Universidade de Chicago, e estudou psicanálise no prestigiado Chicago Institute for Psychoanalysis.
Enquanto isso, ele conheceu e se apaixonou por Rosine Loshkajian, uma assistente social armênio-albanesa de Chicago. Casados em 19 de dezembro de 1951, eles tiveram duas filhas. Margot, nascida em 1953, tornou-se dermatologista na Mayo Clinic. Susan, nascida em 1955, tornou-se bibliotecária na Universidade Cornell. Thomas e Rosine Szasz foram casados por dezenove anos, até seu divórcio em 1970.
Seu primeiro artigo acadêmico foi publicado em setembro de 1947 (sobre falha cardíaca congestiva), e durante anos ele escreveu artigos para conceituados periódicos médicos como Archives of Internal Medicine e American Journal of Psychiatry. Em 1956, ele foi nomeado professor de psiquiatria no State University of New York Health Science Center, em Syracuse, onde permaneceu. No mesmo ano, ele começou a escrever artigos que antecipavam os temas aos quais se dedicaria mais tarde. O primeiro livro de Szasz, Pain and Pleasure [“Dor e prazer”] (1957), ofereceu leves críticas da opinião psiquiátrica (médica) de que toda dor tem algum tipo de base física, que pode ser medicada. Um ano depois de conseguir estabilidade, ele publicou seu primeiro grande livro, The Myth of Mental Illness [“O mito da doença mental”] (1961). Ele o via como uma sequência natural de Pain and Pleasure, mas o livro chocou a comunidade psiquiátrica. Em The Myth of Mental Illness, ele defendeu que apesar de os psiquiatras rotularem certas formas de comportamento como doenças mentais, eles não são de modo algum comparáveis a uma doença causada por um vírus ou uma bactéria. Esses, explicou Szasz, poderiam causar uma doença no cérebro, mas não uma “doença mental”.
A doutrina da “doença mental” tinha sérias consequências. Em primeiro lugar, rotular comportamentos como doenças mentais significava deixar de considerar as pessoas responsáveis por seus atos. Assassinos, por exemplo, podiam evitar condenações alegando insanidade – após serem declarados “insanos” por um psiquiatra. Em segundo lugar, psiquiatras ganhavam o poder de internar pessoas involuntariamente em instituições psiquiátricas. Longe de serem o agente do paciente para ajudar no tratamento de uma doença física, os psiquiatras eram frequentemente agentes do Estado.
Após a publicação de The Myth of Mental Illness, Szasz testemunhou em defesa de John Chomentowski, um homem de Onondaga County, em Nova York, que havia disparado tiros de alerta contra “capangas” enviados por um construtor que queria tomar sua propriedade antes da data contratada. A polícia o prendeu, os psiquiatras do governo o pronunciaram mentalmente incompetente, e ele foi internado no Matteawan State Hospital for the Criminally Insane. “Szasz testemunhou em uma audiência de habeas corpus, em que Chomentowski tentava ganhar sua liberdade do confinamento”, relembrou o psiquiatra Ronald Leifer. “O julgamento, ao qual eu compareci, recebeu muita atenção dos círculos psiquiátricos, já que pela primeira vez Szasz estava em confronto direto com psiquiatras convencionais em um fórum público... Ele acreditava que hospitais psiquiátricos são prisões, e que, efetivamente, o sr. Chomentowski havia sido preso sem ter sido condenado por um crime. Ele traduziu o jargão dos psiquiatras do hospital do estado para linguagem comum, com efeito devastador”.
O comissário local de saúde mental, Abraham Halpern, enviou um protesto formal ao comissário de higiene mental do estado de Nova York, Paul Hoch, que ordenou que Szasz deixasse de ensinar no Syracuse Psychiatric Hospital. O Psychiatric Quarterly publicou um ataque, “Szasz for the Gander”. Dois compatriotas de Szasz foram demitidos, mas ele permaneceu em sua posição de professor porque ele resistiu, e tinha estabilidade.
Szasz expandiu seu ataque à doença mental em Law, Liberty and Psychiatry [“Direito, liberdade e psiquiatria”] (1963): “A noção de doença mental se baseia principalmente em fenômenos como a sífilis cerebral ou condições de delírios – embriaguez, por exemplo – nas quais as pessoas podem manifestar certos distúrbios de pensamento e comportamento. Falando corretamente, no entanto, são doenças do cérebro, e não da mente. Segundo uma escola de pensamento, todas as supostas doenças mentais são desse tipo. Pressupõe-se que algum defeito neurológico, talvez muito sutil, acabará por ser descoberto, e explicará todos os distúrbios do pensamento e do comportamento. Muitos psiquiatras contemporâneos, médicos e outros cientistas são desta opinião, que implica que os problemas das pessoas não podem ser causados por necessidades pessoais, opiniões, aspirações sociais, valores, etc., em contradição. Tais dificuldades – que penso que podemos chamar simplesmente de problemas do viver – são então atribuídas a processos fisioquímicos que em algum momento serão descobertos (e sem dúvida corrigidos) pela pesquisa médica... [mas] a crença de uma pessoa – seja no Cristanismo, no Comunismo, ou na ideia de que seus órgão internos estão apodrecendo e seu corpo já está morto – não podem ser explicadas por um defeito ou doença do sistema nervoso”.
A internação involuntária é pior do que ir para a prisão, destacou Szasz, porque os presos são libertados após cumprirem sua pena, se não antes, enquanto indivíduos em um hospital psiquiátrico estão condenados a lá permanecer indefinidamente, a critério dos psiquiatras. “Nem internistas nem obstetras nem cirurgiões operam instituições especiais para pacientes involuntários, nem a lei os autoriza a sujeitar pessoas a tratamentos que elas não querem”, Szasz escreveu. “O paciente psiquiátrico entra no hospital de uma entre duas maneiras: voluntariamente ou involuntariamente. É preciso enfatizar que em nenhum dos casos ele tem uma verdadeira relação contratual com o hospital. Qualquer que seja o modo de entrada, o paciente se encontra em situação de internação... Se um paciente entra em um hospital psiquiátrico voluntariamente, e com um acordo de que ele pode sair quando quiser, mesmo assim os psiquiatras podem recusar-se a dar-lhe alta... Entrada voluntária é na verdade internação voluntária. Em outras palavras, o papel do paciente psiquiátrico voluntário é uma mistura entre o papel de paciente médico e o de prisioneiro”.
E a opinião de que os indivíduos devem ser internados se são perigosos para si mesmos ou para a sociedade? “Em minha opinião”, escreveu Szasz, “a verdadeira questão não é se uma pessoa é perigosa. A questão é quem ela é, e de que forma ela é perigosa. A algumas pessoas é permitido ser perigoso para outros com impunidade. Além disso, à maioria de nós é permitido ser perigoso de algumas formas, mas não de outras. Motoristas bêbados são perigosos tanto para si mesmos quanto para os outros. Eles ferem e matam muito mais pessoas do que, por exemplo, pessoas com alucinações paranóicas de perseguição. No entanto, as pessoas rotuladas como paranóicas são prontamente internáveis, e os motoristas bêbados não são. Certos tipos de comportamento perigoso são até recompensados. Motoristas de corrida, trapezistas e astronautas recebem admiração e aplausos... Portanto, não é a periculosidade em geral que está em questão aqui, mas sim a maneira ou o estilo como uma pessoa é perigosa”.
Szasz desdenhava a alegação de que hospitais psiquiátricos têm qualquer capacidade de fazer os pacientes melhorarem: “Os efeitos danosos da hospitalização psiquiátrica sobre a personalidade do detento são demonstrados mais convincentemente pelo fato de que os chamados pacientes crônicos raramente tentam escapar. Pessoas confinadas em instituições psiquiátricas por períodos consideráveis perdem todas as habilidades sociais que tinham para sobreviver do lado de fora”.
Psiquiatras estrangulavam a responsabilidade individual não apenas internando as pessoas em instituições psiquiátricas contra a sua vontade, mas também declarando réus criminais insanos. O raciocínio vago e facilmente expansível da doença mental possibilitou que todo tipo de pessoa cometa crimes terríveis sem ser responsabilizada.
Law, Liberty and Psychiatry tornou Szasz uma figura polêmica, e ele começou a escsrever para publicações populares, incluindo New York Times Magazine, New York Times Book Review, Boston Sunday Herald, Atlantic Monthly, Harper’s, National Review, New Republic, e Science Digest. Alguns psiquiatras ficaram indignados. Manfred Gutmacher, um psiquiatra que ganhava dinheiro testemunhando em casos criminais, resmungou: “Um pássaro que suja o próprio ninho corteja as críticas”.
A psiquiatria ganhou impulso quando Thorazine e outros tranquilizantes tornaram-se amplamente disponíveis. Então vieram drogas antipsicóticas e antidepressivas. “Conforme novas gerações de medicamentos eram desenvolvidas”, explicou Ronald Leifer, “o tratamento farmacológico de doenças mentais parecia ter uma melhor relação custo-benefício e se tornava mais popular. Tornados mais confiantes pelas drogas, os psiquiatras expurgaram Szasz. Seus artigos não eram bem recebidos nos periódicos de psiquiatria. Seria praticamente impossível que alguém que compartilhasse de suas opiniões sobre ‘doenças mentais’ obtivesse um posto acadêmico em tempo integral ensinando residentes psiquiátricos”.
Mesmo assim, os psiquiatras não conseguiram provar que todo comportamento humano tem uma causa física que pode ser eficientemente tratada com medicação. A repórter de ciências Natalie Angier, do jornal New York Times, escreveu: “Cada vez que pensam ter descoberto um gene real e analisável para explicar um distúrbio mental como a síndrome maníaco-depressiva ou o alcoolismo, a descoberta se dissolve sob inspeção mais intensa, ou é posta em dúvida”. David Cohen, professor associado da University of Montreal School of Social Work, observou que “após quatro décadas de uso clínico de neurolépticos [drogas antipsicóticas], os seguintes fatos emergem de qualquer análise da literatura psiquiátrica contemporânea: os clínicos não concordam quanto ao que constitui uso racional de tais drogas; a dosagem ótima de qualquer neuroléptico é desconhecida; em metade dos pacientes, os sintomas não são suprimidos pelas drogas, ou são agravados; os efeitos das drogas são confundidos com sintomas psiquiátricos; apesar da falta de dados sobre efeitos terapêuticos ou tóxicos a longo prazo... o tratamento da psicose com drogas neurolépticas está, em nível teórico e prático, em estado de confusão”.
Em meio a toda essa controvérsia, Szasz escreveu quinze livros. Os mais notáveis incluem The Manufacture of Madness, A Comparative Study of the Inquisition and the Mental Health Movement [“A fabricação da loucura, um estudo comparativo da inquisição e do movimento pela saúde mental”] (1970); The Age of Madness, A History of Involuntary Hospitalization Presented in Selected Texts [“A idade da loucura, uma história da hospitalização involuntária apresentada em textos selecionados”] (1973); e The Therapeutic State, Psychiatry in the Mirror of Current Events [“O estado terapêutico, psiquiatria no espelho dos acontecimentos atuais”] (1984).
Szasz tornou-se ainda mais polêmico quando desafiou a sabedoria convencional e atacou o combate às drogas. Em seu livro de 1974, Ceremonial Chemistry [“Química cerimonial”], Szasz discutiu sete mil anos de história para mostrar que drogas sempre existiram, e sempre houve alguns que “abusaram” delas, mas quando os indivíduos são responsabilizados pelos danos que causam aos outros, o uso de drogas (e outros comportamentos danosos) é mantido sob controle.
A proibição das drogas revelou as gritantes contradições da interferência do governo na vida privada, destacou Szasz. Pessoas morrem por causa de impurezas em drogas ilegais, algo de que praticamente não se ouve falar quando as drogas são legais e seus fabricantes podem ser processados. Pessoas morrem em conflitos entre distribuidores de drogas que, por estarem envolvidos em uma atividade ilegal, não podem resolver suas disputas litigiosamente. Pessoas inocentes são assaltadas, têm suas casas roubadas e são assassinadas por usuários de drogas em busca de dinheiro para sustentar seu vício, porque ele é muito mais caro do que seria em um mercado aberto.
Szasz rejeitava a opinião de que os indivíduos são indefesos ante a dependência química e que a solução para o vício é minar a responsabilidade dos indivíduos por seus atos. Ele notou que todos os vícios podem ser difíceis de superar, mas as pessoas são dotadas de livre-arbítrio e têm a capacidade de mudar. Ele avisou que toda uma população viciada em governo é muito mais perigosa do que algumas pessoas viciadas em drogas. Ele expandiu o argumento em Our Right to Drugs [“Nosso direito às drogas”] (1992).
Durante toda a sua vida, Thomas Szasz demonstrou a coragem de defender seus princípios sozinho. Ele desafiou uma profissão poderosa e foi banido de publicações influentes; altas autoridades do governo fizeram todo o possível para arruinar sua carreira. Mas ele falou pelos mais vulneráveis entre nós. Ele defendeu os direitos iguais de pessoas que não têm voz porque estão trancafiadas em instituições psiquiátricas ou definhando em prisões pelo “crime” de ser diferente. Ele afirmou a compaixão da liberdade.
--------------------------------
http://www.ordemlivre.org/node/599











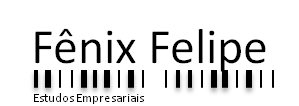





 domingo, novembro 15, 2009
domingo, novembro 15, 2009
 Fênix Felipe
Fênix Felipe





















